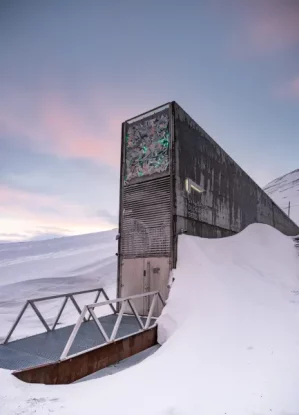As florestas tropicais abrigam muitos recursos valiosos – madeira, lenha, carne de caça – que são considerados bens de “uso comum”. São finitos, compartilhados por todos e não pertencem a ninguém. Quando as pessoas agem apenas em interesse próprio, esses recursos podem desaparecer rapidamente.
Assim, o que convence as pessoas a usá-los de forma justa e sustentável? E a zelar para que seus pares façam o mesmo?
Esse é o tema central de um recente estudo de Arild Angelsen e Julia Naime, cientistas do Centro de Pesquisa Florestal Internacional e do Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal (CIFOR-ICRAF) e da Universidade Norueguesa de Ciências da Vida (NMBU).
Como é sabido por qualquer pessoa que já tentou cortar um bolo na festa de aniversário de uma criança, a repartição de recursos requer uma escolha delicada: pego o máximo que posso agora ou deixo o suficiente para todas as outras pessoas e para mais tarde? Esse dilema costuma ser chamado de “tragédia dos bens comuns”. Ainda assim, segundo Angelsen e Naime, “a tragédia não é inevitável”.
E aprender a fazer isso será fundamental para os esforços globais de conservação, sobretudo em contextos rurais remotos, onde nem sempre chegam instituições formais de forma efetiva.
O encontro da punição com a cooperação
Para que grupos autônomos administrem seus recursos de forma sustentável, geralmente são necessários alguns fatores-chave: um número suficiente de pessoas que façam escolhas cooperativas que favoreçam o coletivo, e consequências para aqueles que decidam “se dar bem” pegando mais do que a parte que lhes cabe. Por exemplo, entende-se que a eficiência do manejo florestal comunitário depende desses mecanismos.
Contudo, reside aí um desafio: a punição muitas vezes gera resistência. Aqueles que denunciam os aproveitadores pelo bem do coletivo podem enfrentar retaliações; às vezes, vingança direta dos punidos, às vezes de outros aproveitadores que escaparam da sanção. Nos faz lembrar da época da escola, quando quase ninguém queria ser conhecido por denunciar um colega. Essa mesma dinâmica é verificada entre os adultos, desestimulando as pessoas a se manifestarem pela causa coletiva.

Experimentos de campo em três países
Para explorar essas questões e testar se os contextos culturais faziam diferença, Angelsen e Naime realizaram experimentos de campo controlados (FFE, na sigla em inglês). Trata-se de jogos interativos de interpretação de papéis com apostas reais em dinheiro, em que tanto os resultados individuais como os coletivos determinam o pagamento. Os FFEs foram realizados com 720 pequenos produtores rurais usuários de florestas situados em três áreas ricas em floresta tropical de acesso comum: Pará, no Brasil, Kalimantan Central, na Indonésia, e Ucayali, no Peru.
“Durante o FFE, um grupo de seis usuários locais da floresta se viu diante de um dilema social, apresentado como uma decisão de quantos lotes de uma floresta de acesso comum converter para agricultura”, explicaram os coautores. “A conservação da floresta proporcionou benefícios agregados maiores ao grupo na forma de um esquema de pagamentos coletivos por serviços ecossistêmicos (PSE), porém o desmatamento gerou mais renda agrícola ao participante do que a perda individual de renda do PSE.”
Em seguida, os participantes tomaram duas decisões: primeiro, quantos lotes converter e – após a divulgação dos resultados – se puniriam os outros membros pela conversão exagerada ou por qualquer outro motivo. (A verdadeira identidade dos outros membros foi ocultada para evitar retaliações pós-experimento.)
Com base nessas decisões, os cientistas criaram uma tipologia dos atores. A punição era “pró-social” – quando visava os aproveitadores – ou “antissocial”, quando tinha como alvo aqueles que cooperavam mais. A punição pró-social geralmente era motivada pela justiça e igualdade do punidor, já que reduzia o benefício acima da média dos aproveitadores. Por outro lado, a punição antissocial pode ser motivada por sentimentos de rancor ou vingança contra colegas que cooperam mais.
Os punidores antissociais também podem ser favorecidos pela redução das recompensas dos outros. Alguns casos de punição antissocial observados no jogo podem ter sido retaliação direta por punições em uma rodada anterior. Nas três áreas de pesquisa, os pesquisadores constataram que os cooperadores e os punidores pró-sociais (que eles chamaram de Homo reciprocans) eram o tipo mais comum de punidores, ao passo que os Sabotadores (aproveitadores que também realizam punições antissociais) eram o grupo menos comum, com cerca de 70% das punições na categoria pró-social e os 30% restantes na categoria antissocial.
Desigualdade e contrastes culturais
“Quando os ‘vilões’ começam a punir os ‘mocinhos’, as coisas podem degringolar.”
Para compreender os impactos da desigualdade na punição entre pares, os pesquisadores realizaram experimentos nos quais cada participante começou com um número igual de lotes florestais e outros em que a quantidade era desigual. Uma parcela muito maior de pessoas realizou punições nos grupos desiguais, indicando “a forma ambígua como a desigualdade afeta os padrões de punição”.
Escreveram os autores: “aumenta tanto a proporção de punidores pró-sociais quanto antissociais”. A punição entre pares torna a prática dos aproveitadores onerosa, e a punição pró-social melhorou o desempenho do grupo por induzir os superexploradores a reduzir sua conversão florestal. Ainda assim, a elevada proporção de punição antissocial – tal como evidenciado neste e em outros estudos experimentais – reduz a eficácia de grupos autônomos. “Quando os ‘vilões’ começam a punir os ‘mocinhos’, as coisas podem degringolar”, afirmou Angelsen.
Os pesquisadores encontraram diferenças consideráveis no comportamento nos diversos contextos culturais. Em termos específicos, os grupos indonésios aplicaram um número muito maior de punições, principalmente de punições pró-sociais. Isso pode ser devido a “normas e preferências mais rígidas por igualdade e justiça”, bem como a uma “maior aceitação do confronto físico e verbal de transgressões de normas” na Indonésia do que nos dois países sul-americanos, escreveram eles.
De forma geral, a pesquisa sugere que a punição entre pares pode “gerar resultados de conservação e reduzir o desmatamento no contexto de PSE coletivo”. Entretanto, a punição entre pares também pode produzir impactos individuais e coletivos negativos, e estes precisam ser considerados e contabilizados nas políticas relativas ao manejo de recursos de uso comum. “A autoaplicação na forma de punição entre pares acarreta o risco de adoção de um comportamento antissocial que – além de ser oneroso tanto para quem pune quanto para quem é punido – gera um efeito negativo na cooperação futura”, observaram os autores.
Agradecimentos
Esta pesquisa faz parte do Estudo Comparativo Global sobre REDD+ do CIFOR-ICRAF. Ela foi possível graças ao apoio da Agência Norueguesa de Cooperação para o Desenvolvimento (Norad), do Departamento de Assuntos Estrangeiros e Comércio da Austrália (DFAT), da Comissão Europeia (EC), da Iniciativa Internacional sobre Clima (IKI) do Ministério Federal do Meio Ambiente, Conservação da Natureza, Construção e Segurança Nuclear da Alemanha (BMUB), do Departamento de Desenvolvimento Internacional do Reino Unido (UKAID) e do Programa de Pesquisa do CGIAR sobre Florestas, Árvores e Agroflorestas (CRP-FTA), com contribuições adicionais de doadores do Fundo CGIAR.